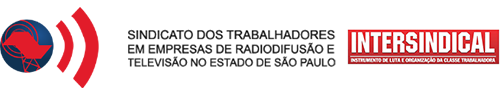Compartilhe
Singer: “Não há como pensar num processo de mudança dentro do capitalismo
que não passe pelo consumo” – Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr
Os sentidos do lulismo, de André Singer, é um empenho na direção de compreender o significado do lulismo e o atual momento histórico do Brasil. Seu foco é lançar luz sobre as contradições que permeiam tanto um como o outro. Para tanto, André Singer parte de uma constatação estarrecedora: no ano da chegada do PT ao poder, o Brasil era o país mais desigual do mundo. Por razões que remontam ao passado colonial, havia no Brasil uma “sobrepopulação trabalhadora superempobrecida permanente”, que estaria abaixo da condição proletária – seria o subproletariado. Responsável pela derrota de Lula em 1989, o subproletariado, segundo André Singer, teria se convertido em base do lulismo. Ao mesmo tempo e pelos mesmos motivos, a classe média se afastaria do PT.
André Singer vale-se largamente da sociologia eleitoral, mas seu livro não se restringe a essa disciplina. Seu objetivo é oferecer não uma interpretação, mas elementos para uma interpretação da conformação de classes e da luta de classes no Brasil. Trata-se de um livro repleto de hipóteses, que só poderão ser confirmadas com o tempo e, em alguns casos, mediante trabalhos de pesquisa. Ao análisar a relação entre o lulismo e o subproletariado, André Singer discute as mudanças na estrutrura socio-econômica do Brasil e suas repercussões políticas e ideolpógicas na sociedade e nos partidos. Em entrevista para o Brasil de Fato, André Singer esclarece algumas das ideias centrais do livro, além de abordar as eleições municipais de 2012.
André Singer é jornalista e cientista político. Fez mestrado, doutorado e livre-docência no Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, onde é professor. Foi porta-voz e secretario de imprensa da presidência da República entre 2003-2007. Autor de Esquerda e direita no eleitorado brasileiro (2000) e O PT (2001).
Brasil de Fato – Em debate realizado recentemente na USP, o sociólogo Francisco de Oliveira criticou a maneira “muito elástica” pela qual o conceito de classe social é empregado em seu livro. Como você analisa as relações de classe no Brasil?
André Singer – O professor Francisco de Oliveira já tinha feito essa observação quando da minha defesa de tese de livre-docência, ano passado, e eu acredito que ele esteja se referindo ao fato de que o subproletariado aparece no meu trabalho como uma categoria ampla, ou seja, muitas formas de inserção na produção poderiam ser contempladas dentro dessa categoria, deixando ela possivelmente elástica. Concordo que ainda está por ser feita uma nova compreensão da atual formação de classe no Brasil. O meu trabalho não se propôs a esgotar o tema. Ele se baseia numa noção que ainda precisa ser melhor estruturada, que é a ideia de que existe, dentro da classe trabalhadora, pelo menos duas frações, sendo uma fração que a gente poderia considerar como o proletariado, aquele que se insere na produção vendendo a sua força de trabalho por uma remuneração que permite a sua própria reprodução, como diria Marx, em condições normais. Quais são essas condições normais? São aquelas condições historicamente determinadas que permitem a própria continuidade desta força de trabalho dentro daquilo que a classe conquistou. A questão é que há outra fração desta classe trabalhadora que está aquém deste ponto. Como definir este ponto, o ponto de divisão? É difícil, mas necessário para que a gente possa ter, mesmo que provisoriamente, uma dimensão do tamanho dessa fração de classe sobre a qual nós estamos falando. Então, há dois elementos que ajudam a definir esse ponto de corte. Um é a questão da carteira de trabalho assinada. O trabalhador que tem um emprego com carteira assinada passa a ter o que eu chamaria de “cidadania trabalhista”, um conjunto de direitos que estão garantidos na CLT, que lhe dá uma proteção a qual os trabalhadores não têm. Esse é um dos elementos que faz com que a inserção no mercado de trabalho formal no Brasil seja uma condição para você ser proletário, ou seja, para que você esteja na faixa que tem condições “normais” de reprodução da sua própria força de trabalho. A segunda questão importante quando falamos de carteira assinada é que ela é a porta de entrada para o mundo sindical. Essa formalização do trabalho é a possibilidade de participação na luta de classes, na medida em que representa essa passagem para a condição organizada da classe. Um trabalhador que não tem a carteira assinada, que não esteja incorporado ao mercado formal de trabalho, não pode fazer greve. Não há greve de trabalhadores informais, muito menos de trabalhadores desempregados. Esse é o segundo elemento que está relacionado à questão da formalização do trabalho, que ajuda a distinguir a fração de classe proletária e a fração de classe subproletária. A segunda questão diz respeito à renda propriamente. E aí nós só temos um elemento aproximativo: a ideia de que há um ponto de corte ao redor da renda familiar mensal de até dois salários mínimos. Isso é aproximativo, porque há uma enorme variação no que diz respeito ao tamanho da família ou à região do país. Uma pessoa que viva sozinha com dois salários mínimos obviamente tem uma renda per capta maior do que uma pessoa que viva numa família grande. Além disso, o custo de vida é muito diferente nas diversas regiões do país e é diferente conforme o grau de urbanização. Então esse dado é muito aproximativo. No entanto, eu acho que ele é importante porque é a base da pirâmide e é o patamar básico que os institutos usam para medir a intenção de voto. É impossível dizer que todas as pessoas que tenham esta renda familiar mensal estejam no subproletariado, mas é possível dizer que uma boa parte deve estar próxima disso. Então, reunindo vários indicadores, eu cheguei à conclusão de que até aproximadamente 2002, quando, depois da eleição de Lula, as condições de vida vão começar a mudar, nós tínhamos aproximadamente 50% da força de trabalho nessa condição, e, portanto, nós estamos falando de um contingente enorme do Brasil. Era nesse ponto que eu queria chegar. É claro que isso não é rigoroso, mas é uma maneira de indicar o tamanho dessa fração de classe sobre a qual penso ser importante discutir. Então, quando o professor Francisco de Oliveira fala que eu estou usando um conceito elástico demais, acho que ele está querendo se referir a essas imprecisões. E a minha resposta é: sim, essas imprecisões existem, mas são os instrumentos que nós temos neste momento, e, mesmo com a dificuldade que nós temos para tratar do assunto com estes instrumentos, eu acho importante tratar deles de alguma maneira do que não tratar.
Desde Esquerda e direita no eleitorado brasileiro, você situa o subproletariado à direita no espectro ideológico e o caracteriza como predominantemente conservador, no sentido de rejeitar a radicalização política. Quais são as razões desse comportamento?
Eu não diria que o subproletariado é predominantemente conservador, porque há um intenso desejo de mudança. Há uma consciência muito nítida de que é preciso mudar a distribuição da renda, algo fundamental no Brasil, e de que é preciso mudar por meio de uma intervenção do Estado, que é algo que vai na direção contrária da ideologia liberal. Esses elementos nada têm de conservador. O que acontece é que eles se associam a um elemento conservador e essa associação é estranha. Este é um elemento que eu caracterizaria como conservador, que é a expectativa de que essa mudança ocorra dentro da ordem, e não com uma ruptura da ordem. Essa associação entre desejo de mudança e expectativa de mudança dentro da ordem é algo inesperado. Querer mudar dentro da ordem é algo que me parece característico desse setor. Então eu não diria que esse setor é tipicamente conservador nem que é predominantemente conservador, mas que tem um elemento conservador. A minha interpretação – uma hipótese, também sujeita à verificação – é que esse elemento conservador existe porque é o setor mais vulnerável da sociedade. O proletariado está na condição dominada, mas ele já tem condição de resistência, condições de organização social e política que lhe permitem resistir, enquanto que esse setor não tem essa condição, está desprovido dessa possibilidade. Minha hipótese é que isso explica o porquê do temor à desordem, e eu diria até de uma certa hostilidade aos movimentos que propõem uma ruptura da ordem.
Em entrevista para a Revista Teoria e Debate (maio/junho/2010), você afirma que o subproletariado “nunca votou no PT em massa”. Contudo, em 1989, 41% dos eleitores na faixa de renda de até 2 salários mínimos votou em Lula, e 51% votou em Collor. Apesar de essa diferença de 10% ser numericamente grande e ao cabo ter sido o elemento que fez a direrença, 41% não é algo desprezível. Até que ponto é válida a tese de que o subproletariado tem hostilidade ao conflito político?
Essa é uma pergunta muito interessante e muito oportuna. Os estudos de comportamento eleitoral são sempre comparativos e relativos. Nós estamos falando de grandes populações, e quando um candidato, como foi o caso do ex-presidente Lula, chega à condição de disputar ponto a ponto a vitória no segundo turno de 1989, isso significa que ele tem de dividir praticamente o conjunto da população. Não é possível chegar a essa condição majoritária no Brasil sem ter uma fatia importante dos eleitores de renda mais baixa. No entanto, o fundamental é que, quando se olha para o conjunto dos eleitores, este é o setor que mais resistiu a votar em Lula, e mais se inclinou em votar em Collor e acabou por decidir a eleição em favor deste. No segundo turno, Lula foi uma espécie de representante de toda a frente oposicionista ao regime militar. Só ficou com Collor praticamente a antiga ARENA, o PDS e o PFL. Havia por trás de Lula toda aquela imensa frente democrática e, no entanto, ele foi derrotado porque não conseguiu a maioria neste setor de menor renda. Mas vocês observam bem, 41% optaram por votar nele naquela ocasião, o que significa que, pouco a pouco, o PT e a própria candidatura Lula foram colocando um pé neste setor, sem o qual não teria sido possível construir a vitória de 2002. Porém, o realinhamento não ocorreu em 2002. Em 2002 houve a continuidade de uma espécie de ampliação contínua da candidatura Lula e da base do PT, que, desde 1989, começa a ter uma base também no eleitorado de menor renda. O realinhamento ocorre em 2006, quando se forma um bloco que vai sustentar a candidatura Lula contra todo o resto, em situação exatamente inversa em relação a 1989, exatamente entre os eleitores de menor renda. Simultaneamente os eleitores de classe média se retraem e passam a votar no PSDB. Mas está correto notar que havia [antes de 2006] um certo movimento, caso contrário não teria se constituído uma candidatura majoritária que também dialogava com alguns setores de baixíssima renda. Porém, Lula só passa a ser o candidato deste bloco, em bloco, a partir de 2006.
Uma das críticas à estratégia lulista consiste em dizer que a ascensão social do subproletariado e do proletariado dá-se na base do consumo, e não da ampliação de direitos. Como você encara essa crítica?
Essa também é uma questão extremamente interessante e acho também muito oportuna. É preciso entender melhor o que está contido nessa crítica. A questão é que todo processo de ascensão social no capitalismo se dá por via do consumo. As pessoas precisam comprar uma casa, comprar roupas, remédios, alimentos etc. Ou seja, todas as necessidades da vida no capitalismo passam de alguma maneira pela relação com a mercadoria. Então não há como você pensar num processo de mudança dentro do capitalismo que não passe pelo consumo. O que talvez essa crítica contenha são duas outras coisas que não estão bem explicitadas, mas que eu vou tentar interpretar. Talvez se esteja aludindo ao fato de que o processo de ascensão social que ocorreu sob o lulismo não foi um processo de mobilização, não houve uma luta para a conquista dessas melhorias. Claro que houve lutas no passado, que em certa medida influenciaram os resultados no presente, mas estes não foram consequência direta de uma luta atual. Então, de alguma maneira, o que se poderia dizer é que essas melhorias vieram de cima para baixo, vieram como decisões do governo, que as pessoas receberam passivamente. E isso é importante porque altera as condições de consciência política. As pessoas podem não reconhecer nem sequer saber que as mudanças das suas condições de vida vieram de uma política de governo que tem a ver com outras lutas que ocorreram no passado. Essa conexão não está dada, e as pessoas podem entender que elas estão melhorando as suas condições de consumo por esforço próprio. A segunda ideia que talvez esteja contida nessa crítica é que talvez esteja havendo nesse momento no Brasil a exacerbação do consumismo – não do consumo, porque o aumento do consumo é inevitável nesse tipo de mudança social dentro do capitalismo e que faz parte do programa da esquerda. Por exemplo: será que as pessoas de renda mais baixa não estão comprando objetos eletrônicos que elas talvez não precisem, ao invés de outras coisas das quais elas precisam, e que poderiam ser mais benéficas para um projeto de emancipação social? Isso é um outro tema para ser discutido. Mas, num primeiro momento, posto dessa maneira, eu tendo a não concordar com a crítica, embora admita que esses outros temas que eu próprio levantei sejam passíveis de discussão.
Os sentidos do lulismo inicia-se com a seguinte frase: “O lulismo existe sob o signo da contradição”. A fórmula que combina “ordem e mudança” é bastante enfatizada em sua análise como uma marca do lulismo. No entanto, tanto entre os cientistas sociais como na esquerda em geral predominam análises dicotômicas. Quais são as razões disso? Passaria pela “invisibilidade” do subproletariado, da qual você fala no livro?
Minha formação filosófica é muito precária, mas eu tento pensar dialeticamente. Eu entendo que ajuda a entender os fenômenos sociais pensá-los não como algo que é ou A ou B, mas algo que envolve uma contradição em si mesma. Eu acho que há muitos fenômenos sociais que são melhor compreendidos se a gente os pensa desse modo. Tendo a achar que essa questão da dicotomização tem mais a ver com um estilo de pensamento que não lida tanto com a dialética, no sentido de unidade formada por contrários, que é a maneira pela qual eu tentei abordar o assunto.
Em seu livro, você afirma que a “nova classe média” seria muito pequena, e que o grosso da ascensão social fruto das políticas do lulismo corresponderia na verdade ao surgimento de um “novo proletariado”. Você chega a dizer que “o subproletariado tende a desaparecer” na medida em que a agenda lulista for realizada. Que critérios sociológicos você utiliza para o estabelecimento do “novo proletariado”?
O que eu estou pensando é na absorção dessa força de trabalho que não encontra remuneração normal, passando a encontrar remuneração normal – estou incluindo na remuneração também o acesso aos direitos trabalhistas. O que eu estou imaginando é que, no longo prazo, o lulismo possa produzir a incorporação dessa massa, que historicamente sempre ficou à margem. A minha hipótese é que o Brasil se caracteriza e se singulariza por ter uma massa excessivamente grande que nunca foi incorporada plenamente à luta de classes. Há todo um setor da classe trabalhadora brasileira – e é importante dizer que é classe trabalhadora, ou seja, não é lúmpen, não são marginais, são trabalhadores – que é muito extensa e que nunca foi plenamente incorporada à condição proletária. Marx diz que há um exército industrial de reserva que vai se renovando e que sempre é o setor que, no capitalismo, está nessa condição. Ocorre que no Brasil ele é excessivamente grande e permanente. Na visão do Marx esse exército industrial de reserva era meio sanfonado: às vezes crescia um pouco, às vezes diminuia, dependia da conjuntura econômica. O que eu acho que caracteriza a historia do Brasil é essa massa permanente e grande. O que o lulismo começou a aplicar parece ser a incorporação desse setor, e quando eu falo de “novo proletariado” eu estou falando desse grande contingente começar a ser incorporado às condições da luta de classes. Há várias questões que emergem sobre como esse setor vai emergir. Existe toda essa discussão sobre o empreendedorismo. Há alguns indícios de que uma parte – eu não acho que seja a parte majoritária, mas é uma parte que merece consideração – dedica-se a pequenos negócios. Esse movimento que existe hoje no Brasil de formalização de pequenos negócios, da pequena e micro empresa, que dá a esse setor uma condição de inserção, é algo que nós temos que verificar. A condição proletária é classicamente a condição do assalariamento, mas pode ser que, como dizem alguns, num novo tipo de capitalismo, haja formações diferentes. Quando eu digo “incorporação”, eu não estou dizendo que tipo de incorporação.
Que identidades e valores esse “novo proletariado” tende a assumir?
Eu já entrei um pouco nisso na pergunta anterior. Vamos pensar em termos de duas formas se inserção que podem estar ocorrendo nos últimos anos. Uma é via o assalariamento em empregos de baixa remuneração e alta rotatividade. As estatísticas mostram que 90% dos empregos são de baixa remuneração, e a CUT tem notado uma alta rotatividade na força de trabalho no Brasil, que não mudou sob o lulismo. Embora se trate de um assalariamento precário, nós estamos falando de assalariamento, com carteira assinada. Por outro lado existe a possibilidade de que haja um movimento em direção a negócios muito pequenos, como a pessoa que abre um pequeno salão de beleza num bairro da periferia na própria casa, mas que passa a ser formalizado e tem uma regularização que não tinha antes: micro-crédito, bancarização, um certo apoio de programas estatais etc. O primeiro grupo tenderia a entrar propriamente na luta de classes, como a gente está vendo nas greves que estão ocorrendo nas hidrelétricas, e que ocorreram também nas grandes obras dos estádios e no próprio setor de telemarketing, que o professor Ruy Braga estudou. Esses setores são tipicamente setores de baixa remuneração e alta rotatividade. Para essa parcela desse novo proletariado podemos ter a expectativa de valores compatíveis aos do velho proletariado. Já esse setor que pode estar enveredando para a área do empreendimento, sociologicamente a tendência é bastante conservadora, porque se trata de uma pessoa que trabalha por conta própria, talvez depois de algum tempo com pouquíssimos empregados, é uma pessoa que opera num regime de altíssima competição, não tem nenhuma forma de organização coletiva, de tal maneira que essas pessoas tendem a ser na verdade ultracapitalistas. Mas tudo isso são hipóteses, e têm que ser verificadas pelos fatos e pelos trabalhos empíricos de pesquisa.
Em Os sentidos do lulismo você afirma que, embora represente um caminho possível, o reformismo fraco do lulismo não é da predileção da burguesia. Por quê?
Essa também não é uma pergunta simples. De certo ponto de vista, o lulismo representa uma fórmula que poderia ser muito interessante para a burguesia. Primeiro porque representa um apaziguamento dos conflitos sociais, dos quais a burguesia sempre tem muito medo, sobretudo num país de grande desigualdade como é o caso do Brasil. Em segundo lugar, até recentemente a lucratividade do capital foi muito alta nos vários ramos. Considerando esses dois elementos, poderia ser bastante interessante essa fórmula para a burguesia, e de fato para uma parte dela o é, a ponto de haver conexões entre setores da burguesia e o lulismo – aqui e ali você observa haver mais do que tolerância, mas um apoio decidido e até uma conexão forte. Contudo, para o conjunto da burguesia não o é, talvez porque ela esteja hoje hegemonizada pelo capital financeiro, que é avesso até mesmo ao reformismo fraco. O projeto do capital financeiro é outro. É um projeto mais conservador do que esse, mais regressivo em relação ao desenvolvimento econômico do país, à distribuição da renda e, portanto, àquilo que é o ponto central da minha discussão, que é o problema da igualdade. O capital financeiro é muito refratário a melhorar as condições de igualdade. E, em função disso, embora o capital aceite o lulismo, tolere às vezes mais, às veze menos – até porque o lulismo é um sistema de arbitragem, e como nem todos os interesses do capital estão sendo atendidos o tempo todo, há um tencionamento – eu diria que o projeto do coração do capital não é o reformismo fraco, mas sim um projeto propriamente conservador.
No livro, você diz desconfiar que o radicalismo que marcou a origem do PT tenha sido um fenômeno de classes médias. Gostaríamos que você explicasse os motivos dessa desconfiança, e como se explica a migração da classe média tradicional para o campo liderado pelo PSDB ocorrido durante o governo Lula.
O professor Antônio Cândido mostra que há uma tradição de pensamento radical que vem desde o século XIX na classe média no Brasil. Eu tenho a desconfiança de que o PT é até certo ponto herdeiro disso porque se apresenta desde o começo como um partido explicitamente radical. Ele quer ser radical até para se contrapôr a uma leitura que é feita de como se constituiu a historia politica brasileira, sempre por via da conciliação pelo alto. Esse radicalismo é um elemento muito cultural, que decorre de certa leitura do Brasil. Não é o fruto de uma experiência de luta da classe trabalhadora. Por isso que eu digo no livro que se trata de uma desconfiança, pois, se alguém fosse pesquisar, talvez mostrasse que esse radicalismo explícito do PT tinha a ver na origem com certa herança de classe média. A mudança da classe média sob o lulismo é fácil de explicar: esse radicalismo sempre foi de minorias da classe média, isto é, nunca foi o grosso da classe média que aderiu a esse ponto de vista. É uma tradição de setores minoritários da classe média. É muito interessante a recuperação dessa corrente feita pelo professor Antônio Cândido, porque ela mostra que, dentro de uma história política muito conservadora como é a historia do Brasil, houve correntes radicais que propunham ruptura. Elas existiram, e até com formulações muito sofisticadas e muito acuradas do Brasil. É muito interessante esse resgate para se pensar o Brasil do ponto de vista da hegemonia cultural. Mas a classe média como um todo nunca aderiu a isso. Então eu acho que quando se deu a ruptura da classe média com relação ao PT em 2005 – eu acho que, na verdade, 2005 foi apenas um momento que catalisou um distanciamento que já estava ocorrendo desde 2003 – é um momento em que a classe média se afasta de uma política popular, o que em termos de classe no Brasil é inteiramente compreensível, pois, dada a grande desigualdade existente no Brasil, os interesses de classe se confrontam mesmo. É como se tivesse aparecido uma verdade de classe nesse momento.
Em Os sentidos do lulismo, você afirma: “/…/ a classe média se unifica em torno do PSDB, na procura de restaurar o status quo ante, mesmo que isso não possa ser dito com todas as letras”. Por que isso “não pode ser dito”? É possível ver nessa atitude um certo traço da formação histórica do Brasil?
O que eu quis dizer é que o PSDB precisa ser um partido competitivo, ou seja, um partido que tenha chances de compor maioria. Não se compõe maioria, com a formação de classes do Brasil, com um discurso antipopular. Por isso o PSDB tem de fugir disso como o diabo foge da cruz. O PSDB não pode eleitoralmente assumir a sua verdadeira posição. Há uma situação nesse momento de esquizofrenia, porque o PSDB tem uma base social muito forte na classe média, é o partido da classe média, mas não pode vocalizar plenamente os pontos de vista da classe média. Ele precisa encontrar a quadratura do círculo, que é ser um partido de classe média com um discurso popular, porque do contrário não faz maioria. Esse é um grande problema que está posto hoje para o PSDB e, até certo ponto, para a democracia brasileira, porque o PSDB é o maior partido da oposição e a democracia precisa de competição. Isso torna todo o jogo político que há no Brasil hoje difícil de entender, porque quando eu falo, por exemplo, que existe polarização no Brasil, as pessoas olham para o discurso e não veem essa polarização. Mas a polarização não está mesmo no discurso, porque o PSDB não pode fazer esse discurso, que está na sociedade. Você vai conversar com pessoas de classe média e você vê o que é o discurso contra a política social, contra a distribuição de renda, contra tudo o que é o lulismo. Você vê a carga de tensão que existe nesse discurso, mas ele não se expressa e não pode se expressar, sobretudo eleitoralmente. Esse é um jogo político que não é fácil de entender, e quem olha pra aparência se perde, chega a uma conclusão errada.
Em entrevista para a Folha de S. Paulo (19/08/2012), você diz que trabalha com a hipótese de que a perda de apoio do PT nas classes médias seja definitiva. Contudo, apesar de a preferência pelo PT na faixa de renda acima de 10 salários mínimos ter sofrido uma queda brusca de 32% em 2002 para 17% em 2006, ela voltou a crescer em 2010, chegando a 24%, e entre aqueles que têm ensino superior a preferência pelo PT cresceu de 18% em 2007 para 24% em 2010. Tais dados não indicariam uma tendência a recuperação do apoio do PT junto às classes médias?
Essa é outra pergunta muito interessante. De fato, essa leitura minuciosa que vocês fizeram das pesquisas eleitorais mostra certa melhora do PT na classe média em direção a 2010. Para complementar, há indicadores sobre a imagem da presidente Dilma que mostram que ela é simpática na classe média, e há candidaturas do PT, como é o caso do atual prefeito eleito Fernando Haddad, num perfil que dialoga com a classe média. Olhando para a distribuição pela preferência pelo PT no conjunto da sociedade, vemos que, embora tenha havido uma pequena melhora na classe média, a base é amplamente popular, sendo o estrato de classe média pequeno e minoritário. Em certa medida teria que ser mesmo porque a classe média no país é pequena, mas mesmo em termos relativos ele é minoritário. E há várias demonstrações nas próprias eleições de 2010 e 2012 de que a base eleitoral real do PT está nas camadas populares. Se dependesse das classes médias, Dilma não teria sido eleita, e Fernando Haddad também não teria sido eleito. Ambos dependeram inteiramente das camadas populares. Aqui novamente se coloca aquela questão de que estudos eleitorais são sempre relativos e comparativos. Pode haver certas oscilações, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu não acho que essa simpatia relativa da presidente Dilma na classe média hoje seja muito relevante. Acho que na hora do voto, [a classe média] vai votar contra. As pessoas até têm uma certa simpatia e, infelizmente, não pelos bons motivos, mas porque ela tem um perfil pessoal muito diferente do ex-presidente Lula, pela sua trajetória de vida, pela sua formação, que é um perfil de classe média. Mas não creio que isso vá alterar substantivamente o apoio político. Então, embora eu admita que possam haver aqui e ali algumas oscilações, essa não é a questão decisiva, não altera o fundamento de classe da polarização que está posta hoje no Brasil.
Em seu livro, você fala do surgimento de uma “direita popular”, referindo-se aos partidos de direita que se aproximaram do governo. Por um lado, o PT depende destas forças políticas para ganhar a eleição e governar. Por outro lado, em seu livro você sustenta que o lulismo abre uma janela histórica para a eliminação da pobreza e a redução da desigualdade. É possível aproveitar essa janela histórica com a atual coalização? Qual é o risco que essa “direita popular” coloca para uma agenda de transformações estruturais?
Eu penso que são duas coisas bem diferentes. A direita popular é uma característica social que está dada pelo menos desde 1989. Em certa medida o malufismo se sustentou nessa direita popular, assim como o janismo lá atrás. Há certa recorrência de expressões de direita populista ou de populismo de direita. Essa é a questão, que tem tudo a ver com essa dualidade de mudança dentro da ordem. O Jânio, com sua ênfase na ordem, na autoridade, mas ao mesmo tempo no “tostão contra o milhão”, fazia essa simbiose. Isso tem a ver com a formação de classe e com a formação social e ideológica do Brasil. Outra questão é que se formou uma coalizão com partidos de direita, que não necessariamente são partidos de direita popular. Portanto, são duas coisas diferentes. Acho que as duas questões abrem para perguntas importantes. Uma, que tem a ver com a formação social e ideológica, é a seguinte: se o horizonte das mudanças está limitado pela aceitação da ordem, então até onde dá pra ir? Dentro dessa configuração, dá pra ir até onde a ordem permitir. A pergunta teria de ser: quais são os limites da mudança dentro da ordem? Essa é uma pergunta que nos levaria a uma série de vertentes. A outra pergunta é: o que é possível fazer dentro de uma coalização partidária que envolve partidos mais à direita? Eu penso que esses partidos à direita nitidamente brecam o movimento de mudança, ou seja, fazem uma espécie de lentificação do movimento. Veja o que foi o papel do PMDB na campanha eleitoral de 2010: foi de brecar as medidas mais radicais que o PT tinha proposto em seu IV Congresso, como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho e a taxação das grandes fortunas. O PMDB brecou essas duas coisas, que no final não entraram no programa da presidente Dilma. Esses partidos estão cumprindo um papel político determinado. O que acontece é que essa lentificação tem tudo a ver com o reformismo fraco, e de certa maneira é uma composição que atende e está dentro do próprio projeto. A segunda questão deveria então ser: qual é o horizonte que o reformismo fraco abre?
Você considera o cenário de essas forças abandonarem o PT e unirem-se ao PSDB em 2014 ou 2018?
Penso que o PSD e o PSB fizeram um movimento, cada um vindo de um ponto diferente, na direção de poderem fazer esse movimento se for conveniente. Esses dois partidos ficarão na coalização majoritária, ou seja, pularão no barco que tiver mais condição de vencer. Tomando as condições de hoje, novembro de 2012 – isso evidentemente pode mudar até 2014, quanto mais dirá até 2018, portanto eu não estou fazendo um prognóstico, mas lendo a realidade de um ponto de vista de hoje – acho que eles ficarão com a candidatura do PT. Mas se do lado da oposição houver mais chances de ganhar, eles poderão pular.
E como você encara a movimentação do governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos?
Eu acho que ele está viabilizando a própria candidatura à presidência da República e, com isso, simultaneamente, ajudando a viabilizar o seu partido, o PSB – no Brasil é difícil estruturar um partido sem candidatura presidencial, as duas coisas estão muito coladas. Eu acho que ele está aproveitando os espaços disponíveis, inclusive o espaço de aliança com o próprio PSDB, como aconteceu em lugares como Belo Horizonte, Curitiba e Campinas, para viabilizar uma alternativa. Como essa alternativa vai se realizar, não dá pra saber. A grande pergunta é saber se haverá ou não no Brasil uma terceira força competitiva além das que nós temos hoje, que são PT e PSDB, que se consolidaram como partidos competitivos. O PSB poderá vir a ser uma alternativa, mas há um longo caminho pela frente. Eu creio que ele, por ser jovem, está disposto a trilhar esse caminho, e está dando os passos necessários para que isso possa vir a acontecer. Se vai acontecer ou não, isso vai depender de muitas circunstâncias que nem ele pode determinar. É o xadrez em que, diferentemente do jogo, não tem só um competidor, mas há um conjunto grande de variáveis que ninguém controla.
Comparando as intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial em 2006 e em 2010, o que os dados mostram é que a diferença entre PT e PSDB caiu de 39% (2006) para 20% (2010) na faixa de renda de até 2 salários mínimos, e de 21% (2006) para apenas 6% (2010) na faixa de renda de 2 a 5 salários mínimos. Estão aí mais de 80% do eleitorado, e a base do lulismo, sobretudo na faixa de renda de até 2 salários mínimos. O que essa diferença nas intenções de voto entre 2006 e 2010 revela?
Não foram feitas pesquisas em profundidade para responder a essa pergunta, então o que nós temos são hipóteses. Eu acho que revela o fato de que a candidata Dilma não tinha trajetória eleitoral própria, foi uma candidata indicada pelo ex-presidente Lula, e acabou por ter menos força nesses setores do que teve o próprio ex-presidente Lula. No entanto, ela teve força suficiente para vencer, o que foi um fato extraordinário. Vencer uma eleição presidencial sem nunca antes ter concorrido a nada é algo excepcional e que só se explica pelo próprio lulismo. Eu me lembro que num debate do qual eu estive, João Pedro Stédile mencionou o fato de que ele tinha observado pessoas de baixa e de baixíssima renda que tinham votado no candidato Serra na eleição de 2010. Ele tinha razão. Os números estão aí, certo segmento o fez. Há certo setor que dialoga com o PSDB e vice-versa, senão a candidatura Serra não teria chegado até onde chegou, afinal de contas a diferença final não foi tão grande. Foi expressiva, mas foi menor do que havia sido nas vitórias do ex-presidente Lula em 2002 e 2006. Inclusive essa redução da diferença foi o motivo do entusiasmo do então candidato Serra ao final daquela eleição presidencial, e ele certamente deve ter avaliado que as condições para ele estavam melhorando. Acredito até que isso possa ter influenciado ele a aceitar a candidatura aqui em São Paulo. Para se poder investigar mais a fundo quais são as características dos setores de baixa e de baixíssima renda que dialogam com o PSDB, nós precisaríamos ter mais pesquisas.

O cientista político André Singer – Foto: Fernanda Becker
Como você avalia o desempenho do PSOL nessas eleições, em particular no Rio de Janeiro, Belém e Macapá, onde o partido teve as mais expressivas votações?
Eu acho que o PSOL fez nessa eleição algo parecido a um movimento do PT que num certo momento deixou de ser um partido quase que à margem do mundo institucional pra passar a ser um partido, digamos, dentro do radar das instituições. Ainda falta muito, mas eu acho que o PSOL deu um passo importante nessa eleição de 2012 pra entrar na luta institucional plenamente, e a começar a fazer parte do jogo político, disputando cargos majoritários, e penso que a tendência é que isso venha a se ampliar até certo limite. Eu acho que isso é bom. É bom pra esquerda, porque é bom que exista um contraponto à esquerda do PT. O PT se beneficiará disso, ou pelo menos a esquerda do PT vai se beneficiar disso. Isso vai moderar os possíveis movimentos do PT em direção ao centro. Em segundo lugar é bom também para a democracia brasileira que haja um partido situado à esquerda e que tenha condição de disputar maiorias.
Você afirma que o lulismo teria imposto uma “rearticulação ideológica” que jogou a luta de classes para o fundo do palco na medida em que tirou centralidade do conflito entre direita e esquerda e, em seu lugar, pôs o conflito entre ricos e pobres. Gostaríamos que você explicasse melhor este ponto.
Isso tem a ver com a avaliação que eu faço do que foi o período de vigência daquilo que no livro eu chamo de “primeira alma do PT”. Enquanto o PT se apresentou como um partido nitidamente de esquerda e com uma proposta de ruptura, o PT estruturou o sistema partidário em torno do conflito entre esquerda e direita. Ao fazer isso, expressou a luta de classes de uma maneira como ela ainda não tinha acontecido no Brasil, porque o período populista é o período em que o conflito é justamente esse que nós voltamos a viver, entre ricos e pobres, o que não é exatamente um conflito de classes, embora tenha conexões com as classes. É uma situação ambígua que não é fácil de analisar. É novamente a questão da contradição, pois ela não é completamente uma coisa nem completamente outra. E para tentar caracterizar essa mudança eu propus essa imagem, inspirado também no 18 Brumário, quando Marx fala que, derrotado nas jornadas de junho, o proletariado vai para o fundo da cena, mas ele não deixa de existir. É o tal do fantasma: ele está sempre ali, porque ele é o elemento fundamental, por onde pode se dar a ruptura, onde as questões mais importantes estão se dando, mas ele não está mais à frente da cena. Eu quis então trazer essa ideia de que a luta de classes continua funcionando, continua existindo, mas é como que se estivesse submersa, e o que aparece é o conflito entre ricos e pobres, que tem outras repercussões ideológicas diferentes do que é o conflito entre esquerda e direita.
Nessas eleições, as candidaturas do PT e dos demais partidos de esquerda evidenciaram a polarização entre ricos e pobres. Como você avalia as candidaturas do campo popular em 2012? Houve candidaturas que sinalizaram na direção de trazer à tona o embate entre direita e esquerda?
De modo geral, as candidaturas do PT que eu pude acompanhar tenderam a reproduzir esse padrão de de polarização entre ricos e pobres. Onde eu imagino que possa ter aparecido mais o discurso de classe de esquerda é nas campanhas do PSOL, mas eu não tive a oportunidade de acompanhar, porque aqui em São Paulo [o PSOL] teve uma presença pequena. Talvez nos outros lugares onde o PSOL teve mais votos isso pudesse ser melhor verificado. Outra questão é se haverá propriamente um partido de direita no Brasil, isto é, um partido que se assuma como de direita e que tenha, digamos, uma vocação militante, que até agora não surgiu. Poderia ser o DEM depois da saída do PSD. Quando eu digo “vocação militante”, estou me referindo a existência de base social suficiente para existir independentemente do Estado. Mas essa nunca foi a tradição do DEM, cuja tradição é a da velha direita brasileira, acoplada ao Estado. Uma última coisa a dizer é que dentro do PT continua existindo um setor de esquerda importante. Não é mais dominante, mas é significativo, e talvez fosse necessário se fazer uma avaliação do que ele conseguiu produzir nessas campanhas. Mas minha desconfiança é que esse setor não tem sido capaz de se apresentar publicamente, com um discurso próprio. Ele fala pra dentro do partido, tem uma atuação de esquerda dentro do partido, mas não está conseguindo falar para a sociedade.
Em Os sentidos do lulismo, você propõe a tese de que o lulismo teria imposto um novo “marco regulatório” da política, uma agenda da qual a oposição não poderia sair, que consiste na redução da pobreza. Em entrevista para a Revista da ADUSP (Janeiro 2011), você chega a dizer que a oposição estaria “completamente subordinada” a essa agenda, pois, caso contrário, não ganha eleição. Contudo, você mostra que o lulismo foi até aqui bem sucedido em reduzir a pobreza monetária. Não haveria o risco de, uma vez chegando ao poder, a oposição cumprir uma agenda restrita, de combate à pobreza monetária, mantendo o Bolsa Família e a recuperação do salário mínimo, mas deixando de avançar para a redução da pobreza e a redução da desigualdade? Num determinado momento do livro, você próprio fala que “o reformismo fraco, por ser fraco, implica ritmo tão lento que, por vezes, parece apenas eternizar a desigualdade”. Qual é, afinal, a agenda fixada?
O risco existe sim, de a oposição vir a ganhar e lentificar ainda mais. Eu traduziria a pergunta nestes termos: tornar o que é lento ainda mais lento, ou seja, continuar, mas com maiores limitações e num ritmo mais lento. Qual é o horizonte? O que o lulismo desenha é essa grande transformação estrutural do Brasil acontecer no prazo de uma geração: transcorreram cerca de 10 anos, e a gente precisaria de alguma coisa como mais 15 ou 20 anos para que a gente, neste ritmo, venha a dizer que o Brasil realmente mudou e deixou para trás aquilo que havia sido a marca do momento anterior, que é a exclusão de uma grande parte da classe trabalhadora. O problema é que em 15 ou 20 anos muita coisa vai acontecer. Dentre essas coisas estão as naturais e quase inevitáveis oscilações das conjunturas capitalistas, que ninguém sabe como e quando vão se dar. A delimitação desse horizonte depende de uma compreensão mais fina das condições econômicas, porque o projeto do lulismo depende, por exemplo, de que haja um ritmo de crescimento que não é extraordinário, mas também não é tão pequeno quanto esse que ocorreu nos dois primeiros anos do governo Dilma. Esse primeiro biênio do governo Dilma é algo que, de alguma maneira, coloca em questão o projeto. Por razões que até agora os economistas ainda não conseguiram compreender bem, não houve diminuição do emprego e nós estamos em situação de pleno emprego, o que é estranhíssimo diante do baixo crescimento. Portanto, a mera continuidade não é algo simples do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, vão surgir novas contradições, gerando condições políticas mais agudas. Como essas condições políticas serão operadas é algo que também vai determinar a continuidade do processo.
Em vários trechos de seu livro você traça paralelos entre o lulismo e o período que abrange a Era Vargas até 1964. Qual é o alcance deste paralelo?
Essa é uma das questões que me intriga. Numa série de aspectos são muito parecidos: o conflito entre ricos e pobres, o caráter popular do PT (um pouco parecido com o que era o antigo PTB, apesar da diferença importante da origem), esse desenho que parece se organizar em torno de três partidos, como era organizado o sistema 1945-1964. Tem várias coisas que remetem para aquele momento. Ao mesmo tempo, as condições são muito diferentes. Nós passamos por uma nova revolução industrial, revolução tecnológica, hoje temos um outro tipo de capitalismo, o ambiente internacional é completamente distinto, naquele momento nós estávamos vivendo um auge da construção do Estado de bem-estar social e a própria presença do Estado na economia era algo que estava em plena ascensão, e agora é algo que está em descenso no mundo. Na verdade nós estamos, neste momento, passando por um período muito ambíguo, porque o neoliberalismo, que foi hegemônico nos últimos 30 anos, está fazendo água do ponto de vista econômico nos EUA e na Europa, mas continua dominante do ponto de vista ideológico. Estamos num momento de grande incerteza sobre para onde o mundo caminha. Seja como for, o ambiente geral é completamente diferente daquele que se viveu no Brasil nos anos 1950 e começo dos anos 1960. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com essas comparações. Mas este é um trabalho que deveria ser feito, de explorar melhor as semelhanças e diferenças entre aquele período e esse em que nós estamos vivendo.
Além do incremento numérico do proletariado, nos últimos anos tem havido ascenso das graves e da sindicalização, sobretudo no setor privado. Tomando este dado, você considera o cenário, mesmo que no longo prazo, de haver o esgotamento das condições que permitem a conciliação dos interesses de classe e, com isso, de a luta de classes voltar para o centro do palco, como ocorreu no período pré-64, sobretudo nos primeiros anos da década de 1960?
Sem dúvida é uma das possibilidades que se abrem, mas o mero incremento da sindicalização, do aumento do número de greves e da movimentação dos trabalhadores não vai levar, necessariamente, a um cenário desse tipo. Neste momento não temos indícios contundentes de que isso vá ocorrer.
Num texto de 1981, Florestan Fernandes escreve que a burguesia brasileira “teme a massa (dos pobres) e a classe (dos trabalhadores), mas possui um medo ainda maior da conjunção e união das duas entre si”. Em seu livro você vislumbra a possibilidade de o lulismo gerar uma “massa trabalhadora compacta e não mais dividida entre duas alas separadas”. Que impacto isso pode ter na coalização de classes do lulismo, levando em conta que a burguesia brasileira teme este cenário?
Essa é uma questão que eu acho fascinante porque o Gamsci diz que o grande problema das camadas populares é o da sua unificação. O lulismo colocou uma possibilidade extraordinária de unificação das camadas populares no Brasil. De certo ponto de vista, os setores mais pobres estiveram sempre reféns do conservadorismo. Quem é que sustentou a Arena durante todo o regime militar? Os setores mais pobres, do interior do Nordeste. Isso mudou. Pela primeira vez, abriu-se uma janela para a esquerda conseguir falar com essa massa, o que é fundamental no Brasil. O problema é que, simultaneamente, o PT mudou de alma, deixou de ser um partido de classe, de militância. Eu não vejo muitos sinais dentro do PT de que essa excepcional conjuntura histórica esteja sendo aproveitada na direção de uma unificação em torno de um projeto de classe, portanto, novamente, estamos diante dessa situação de contradição: uma extraordinária oportunidade, mas que talvez não esteja sendo aproveitada, fazendo com que esses setores possivelmente se orientem por outras perspectivas.
Você afirma que o lulismo vislumbra a agenda da redução da pobreza e da desigualdade, mas sob a égide de um reformismo fraco. No entanto, ao mesmo tempo você argumenta que o lulismo representou o abandono das ideias de organização, mobilização e conflito. Não há aí um paradoxo, tendo em vista que, ao fazer surgir um novo proletariado, o lulismo favorece um ambiente de conflito, além de “apontar para transformações estruturais”, como você próprio diz? Caso a conjuntura evolua de tal maneira que a realização dessa agenda exija a adoção de um reformismo forte, você acredita que o governo e o PT estão preparados para este cenário?
Acho que não é bem um paradoxo. Realmente, as consequências do lulismo são contraditórias. Por um lado é desmobilizador, enquanto o PT, até 2002, foi um partido de mobilização. Isso mudou e, portanto, certa energia de organização, mobilização e participação se perdeu, criando em alguns setores da esquerda uma certa perplexidade em relação à essa mudança. Ao mesmo tempo, o projeto do lulismo é um projeto de integração do subproletariado. Eu tendo a achar que forma-se, então, um novo proletariado, que nós não sabemos qual cara tem. Não está suficientemente claro o que ele vai fazer. Ele pode se comportar como o velho proletariado: a explosão de 1978 foi inesperada. De repente o ABC se levantou e depois, ao longo dos anos seguintes, todo o Brasil. Aquilo foi uma explosão. O que a Rosa Luxemburgo chama de greves de massas. Isso pode ocorrer. Mas também podem surgir mecanismos de integração capitalista, de diluição. Muitas coisas podem acontecer à partir da formação desse novo proletariado. Se, por exemplo, a participação do pequeno empreendedorismo, sobre o qual falamos, for significativa, isso vai dar outra conotação. Eu tenho certeza de que não é majoritário, mas eu não sei avaliar qual peso relativo ele pode ter. Isso pode dar uma conotação bastante conservadora. Os desdobramentos do lulismo ainda não estão suficientemente claros para podermos afirmar o que vem por aí. Se numa eventual mudança da conjuntura abrir espaço para um projeto de reformismo forte, não é apenas uma questão de estar preparado. Esse não é o projeto lulista. A questão é saber se a esquerda que ainda está no PT ou outros agrupamentos de esquerda, como é o caso do PSOL, teriam condições de estar à frente de um projeto como este. Talvez a questão pudesse ser recolocada da seguinte maneira: se em certo momento reabrirem-se as condições para um projeto de reformismo forte, quem são as forças organizadas que estariam a frente disso? Acho que esta é a questão.
Em Os sentidos do lulismo, você argumenta que o lulismo busca “delimitar, a cada nova conjuntura, o ponto de equilíbrio que, sem provocar rupturas, permita ao Estado (atender) o subproletariado e, ao mesmo tempo, o capital”. Quais seriam, na sua opinião, as prováveis consequências da ruptura do “ponto de equilíbrio”?
Radicalização política. Se o sistema de arbitragem se defronta com um ponto em que ele não consiga encontrar equilíbrio, teremos um processo de radicalização. O que está em curso é um processo de ir encontrando sempre novos pontos de equilíbrio. Não são os mesmos. É uma ilusão achar que está tudo parado e essa é uma das coisas que eu tento mostrar no livro. As coisas estão acontecendo e há muitas mudanças no país. A própria luta de classes está funcionando e há decisões importantes sendo tomadas. As coisas não estão paradas. É que como esse processo não se dá por um processo de mobilização, muitas vezes fica obscurecido e não é percebido do ponto de vista da análise. A consequência é um pouco a análise do [Francisco] Weffort sobre 1964. Há um momento em que o sistema de arbitragem não consegue mais operar porque o confronto de posições fica mais extremado: quando um ganha o outro perde, sem meio termo. A consequência mais provável de uma ruptura dos pontos de equilíbrio seria uma radicalização cujo desfecho desconhecemos, pois dependeria da correlação de forças.
Se a estratégia envolve não romper o ponto de equilíbrio, ela dá espaço para deslocar o ponto de equilíbrio para a esquerda? Que medidas poderiam ter o efeito de deslocar o ponto de equilíbrio para a esquerda?
Sim. Há deslocamentos possíveis dentro do modelo. Não são deslocamentos radicais, não podem ser, mas há deslocamentos possíveis. Darei um exemplo: a decisão do governo de enfrentar os bancos no primeiro semestre de 2012 forçando a redução do spread, foi um passo. Um passo importante porque trata-se de um confronto com um núcleo do capital. Esse é tipicamente um movimento real em que o ponto de equilíbrio mudou de lugar. É verdade, também, que isso pode acontecer para o outro lado. Os pontos de equilíbrio podem se deslocar para a direita e, dependendo da conjuntura, a chance disso acontecer é bem palpável.
Você chega a afirmar no livro não saber se a correlação de forças permitia arriscar outra via. Dez anos depois da eleição de Lula, como você avalia a correlação de forças na sociedade hoje?
Eu acho que os sinais são bastante contraditórios. Por um lado temos dois processos que favorecem o deslocamento dos pontos de equilíbrio para a esquerda. Esses dois processos são o próprio surgimento deste novo proletariado, que passa a ser um contingente da classe trabalhadora em condições de luta – um deslocamento importante. O outro são esses processos, por exemplo, de autonomização das mulheres que recebem o bolsa família. Há uma série de micro movimentos sociais em que as mulheres se organizam, as vezes sob a forma de cooperativas, as vezes sob outras formas, mas se organizam numa perspectiva coletiva de melhoria nas condições de vida. São, indicadores de emancipação e, portanto, sinais de um movimento em direção a uma correlação de forças mais favorável à transformação social. Por outro lado, como o PT deixou de ser um polo organizador, falta a expressão partidária dessas transformações, que existia no período anterior. Isso é um déficit nesse lugar. A pergunta que se coloca é quem é que vai organizar e expressar, do ponto de vista partidário, politico propriamente, essas transformações moleculares que poderiam estar ajudando no sentido de uma correlação de forças mais favorável à transformação. Um segundo elemento desfavorável é que estamos vivendo um movimento ascendente de conservadorismo cultural no Brasil. Eu tomei a liberdade de propor uma extensão daquela ideia do Roberto Schwarz, que dizia que depois do golpe de 64, paradoxalmente, houve uma consolidação da hegemonia cultural da esquerda. Eu pensei na seguinte projeção: talvez essa hegemonia cultural da esquerda no Brasil tenha sobrevivido até o final dos anos 80, e a partir dai ela começa a declinar e começam a surgir manifestações culturais propriamente de valores capitalistas, de perspectiva neoliberal. Ainda estamos vivendo uma onda ascendente nesta direção. Estou falando do plano cultural – não é a mesma coisa do que o plano político – embora, evidentemente, muitas dessas coisas se conectem. Eu tendo a acreditar que também nesse plano cultural a esquerda está em refluxo, e isso não favorece a correlação de forças. Para resumir, passados 10 anos, ainda não é possível dizer com clareza se houve uma mudança favorável à esquerda na correlação de forças.
Há entre os cientistas políticos brasileiros uma corrente de pensamento que valoriza o elemento da continuidade entre Lula e FHC, o que comprovaria a maturidade e solidez das instituições democráticas no Brasil. Contudo, desde a redemocratização, o Brasil não experimentou um “reformismo forte”, com medidas próprias dos programas do PT dos anos 1980. Na sua opinião, o Brasil suportaria um “reformismo forte” sem haver risco de golpe?
De fato, não passamos por isso, o Brasil não passou por essa experiência, que seria um teste extraordinário para a democracia brasileira, dado justamente o passado de um país extremamente conservador em sua história política, um país onde os conservadores sempre ganharam e um país que durante muitos anos foi o mais desigual do mundo e que hoje continua sendo um dos mais desiguais. Então, reformismo forte em um contexto como esse é um tremendo desafio. É impossível responder essa pergunta, pois ela seria uma situação extrema, que apenas seria possível verificar nas próprias condições, mas eu diria que se for um reformismo forte completamente democrático, seria um teste inteiramente dentro do que a gente poderia chamar de desenvolvimento da democracia. Desde que fosse um reformismo inteiramente comprometido com as regras democráticas, o que significa manutenção do direito absoluto de liberdade de expressão, de organização de todos os setores, das minorias, de instituições parlamentares, do judiciário, divisão dos poderes, Estado de Direito e etc. Seria algo que não se poderia, em hipótese algumas, se qualificar como antidemocrático, portanto seria um teste plenamente aceitável em que eu só posso fazer votos de que se isso vier a acontecer, a democracia tenha condições de suportar.
Como você vê a movimentação da direita em 2005, quando esta esboçou o impeachment de Lula?
Eu tenho a impressão de que houve ali um momento raro de confronto dentro do que é o lulismo, que é um projeto não confrontacionista. Ali houve um momento em que a direita chegou a cogitar uma tentativa de impedimento, eu tenho a impressão de que no discurso de Garanhuns o ex-presidente Lula disse entrelinhas que haveria uma mobilização popular contra isso. Eu não saberia dizer se esse foi o motivo, mas acho que entre outros, a oposição ponderou que não valia a pena correr o risco desse confronto, então recuou e o confronto efetivamente não se deu, mas apareceu no horizonte, entrou no radar. Já foi bastante excepcional.
Em entrevista para a Revista da ADUSP (Janeiro/2011), você afirmou não crer que a oposição se caracterizaria por uma atitude de beligerância. Contudo, o papel dado pela oposição (e pela mídia) para o discurso moralizante, sobretudo explorando a questão do “mensalão”, e considerando o papel desempenhado por questões como aborto e homofobia nas campanhas eleitorais, não configuraria um tipo de beligerância?
Há uma beligerância eleitoral, mas ela é normal. Qualquer campanha eleitoral, em qualquer democracia, é, por natureza, acirrada. O jogo eleitoral é um jogo pesado. Então, nesse sentido, sim. Mas acho que não está havendo, talvez até para usar um pouco as referências das perguntas anteriores, da parte da oposição uma atitude golpista. Isto não está posto no horizonte. É a isso que me refiro quando digo que há uma baixa belicosidade.
Em seu livro História do PT, o historiador Lincoln Secco critica o PT por não ter politizado a crise de 2005, bem como a passividade dos dirigentes do partido. Você concorda com essa crítica?
Não, não concordo. Acho que este é um episódio extremamente controvertido, não é algo que seja de fácil compreensão, tanto nos seus aspectos factuais, quanto nas suas repercussões políticas e ideológicas. Acho que agora com o julgamento da ação penal 470 vai se concluir um novo ciclo, também ele bastante controvertido, cheio de aspectos difíceis de entender e que eu penso que ainda vai requerer um esforço grande de análise para poder ser colocado nos seus devidos termos. Análise a qual eu acho que ainda não foi feita e, de fato, com o julgamento se encerrando, provavelmente nas próximas semanas, até certo ponto é preciso esperar. Mas, de qualquer modo, eu não tendo a compartilhar desta visão.
Ao tratar das duas almas do PT, você fala em “abandono” e “esquecimento” da antiga alma, mas ao mesmo tempo em “convívio lado a lado”. Essas diferentes maneiras de abordar o assunto expressaria uma situação de impasse ou de indefinição? Como você encara o PT pós-governo Lula?
Eu acho que tem algo talvez da tradição brasileira, que, curiosamente, é uma tradição a qual o PT originalmente quis se contrapor, de não confronto. Então, as duas almas estão lá. Falam coisas completamente diferentes, porque uma fala contra o capital, a outra é mais amigável ao capital e as duas estão ali. Por vezes, você olha o programa e identifica pontos contraditórios. Elas [as duas almas] são contraditórias, mas as duas estão ali. E mais do que o fato de que as duas estejam ali, porque isso aconteceu também no caso do Partido Social Democrata alemão, ou no caso do Partido Trabalhista inglês, pois esses processos de mudanças partidárias as vezes são muitos longos e as tendências por vezes permanecem convivendo por muito tempo, o que eu acho que é particular no PT é que elas não debatem. Não está ocorrendo esse debate dentro do partido. É como se essas questões não existissem. Eu penso que isto é uma característica do Brasil. O PT acabou reproduzindo certos aspectos da cultura política brasileira. Hoje o PT esta envolvido nessa perspectiva lulista, é ela que comando o partido. O partido está engajado nessa orientação. Que é uma orientação com uma estrutura. Talvez ela não tenha sido, de início, pensada como um projeto teórico, mas ela acabou se configurando como um projeto consistente. Desse ponto de vista, o PT tem perspectivas de desenvolvimento, está crescendo eleitoralmente e está se consolidando como um partido muito poderoso no Brasil, ao mesmo tempo em que permanece dentro dele um contingente não desprezível de pessoas que falam a linguagem antiga, a linguagem do primeiro PT. Isso também dá certo colorido para o partido. Embora não seja dominante, faz com que o partido tenha tons diferentes dos que ele teria se essa ala tivesse sido expulsa, ou tivesse saído. Hoje, eu vejo o PT engajado no projeto lulista e imagino que o PT andará de acordo com o andamento deste projeto.
Gostaríamos que você desenvolvesse melhor a afirmação de que “o sucesso do lulismo pode vir a depender do resultado da disputa entre as coalizões produtivista e rentista”, e de que “o tema da desindustrialização /…/ definirá em parte o caráter do proletariado brasileiro deste século”.
Há indicadores fortes de desindustrialização no do país. Eu percebo que apesar de todo o esforço que o governo tem feito, tanto os governos de Lula, quanto o governo Dilma, são governos preocupados com esse assunto – é bastante difícil de reverter esse processo. Por condições gerais do capitalismo global, em que a corrida tecnológica é muito rápida e é necessário o investimento de um grande montante de capital para tentar se equiparar, é difícil para um país na situação do Brasil dar esse salto, por conta de suas características estruturais. Ao mesmo tempo, esse não é o projeto do capital financeiro no Brasil. O projeto do capital financeiro não é reindustrializar o país, fazer o Brasil ser um paás que participe da primeira divisão dos países produtores de alta tecnologia e de alto valor agregado. Embora, obviamente, esse projeto seja de alto interesse dos industriais brasileiros, a coalizão rentista é muito poderosa, e, apesar de toda a classe trabalhadora organizada e hoje associada ao capital industrial nessa tentativa de recuperar o tempo perdido, a correlação de forças é bem complicada para tentar dar esse salto. Qual é a importância dessa questão para a classe trabalhadora? Se tivéssemos uma reindustrialização do país, teríamos uma classe trabalhadora diferente, e as perspectivas do próprio novo proletariado seriam outras. Nós teríamos à disposição um maior número de bons empregos para os novos proletários que já vem com uma escolaridade mais alta e cujos filhos deverão ter uma escolaridade mais alta ainda. Estamos vendo um acesso significativamente maior ao ensino superior e isso deverá continuar se o lulismo continuar. E isso significa que teremos uma massa de pessoas com um diploma procurando empregos compatíveis com certas aspirações, inclusive de natureza cultural, que podem não ter equivalência no mercado de trabalho real, porque esses empregos dependem, justamente, do que eu estou chamando de reindustrialização. Essa massa de pessoas se formando em escolaridade mais alta sem encontrar uma colocação adequada pode gerar uma contradição social importante. Por isso, que eu digo que do futuro dessa coalizão rentista com essa coalizão produtivista, depende uma série de coisas importantes, daqui pra frente.
Você dá bastante ênfase em seu livro para os temas do emprego e da reforma tributária. Que balanço você faz tanto da reforma tributária empreendida durante os governos Lula e Dilma como da estrutura do emprego no Brasil?
A questão da reforma tributária do ângulo da esquerda é, sobretudo, aumentar a taxação das grandes fortunas e do capital em benefício de politicas sociais centrais, como é o caso da saúde. É uma disputa se nós vamos ter saúde e educação públicas ou saúde e educação privadas. Nós estamos no meio do caminho. O Brasil tem um sistema público de saúde constitucional, isso é um avanço importante, mas, por outro lado, ele não está realizado na prática. É um sistema misto, no qual o sistema público tem muitas deficiências, fundamentalmente porque falta verba, e é uma aspiração de todos os trabalhadores ter um plano de saúde privado. Você vê que, na medida em que melhora a condição social, a pessoa vai e compra um plano de saúde privado. Estamos em uma situação híbrida e o que está em disputa é o modelo que vai predominar, que vai prevalecer. Eu acho que uma proposta da esquerda seria taxar o capital, grandes fortunas, de modo, por exemplo, a financiar um sistema de saúde pública pra valer e, portanto, vencer essa batalha. Essa é uma questão de grande centralidade, a meu ver, no programa da esquerda. Quanto a isso, não observo nenhum avanço – estamos parados há um bom tempo. O imposto do cheque foi revogado no final de 2007, sem nunca ter sido substituído. Estamos no meio do caminho no que diz respeito a reforma tributária – e falando de reforma tributária, há a reforma tributária da esquerda e há a reforma tributária da direita. Com relação ao emprego, eu mencionei em outro momento, há uma ampla produção de postos de trabalho que, por circunstancias ainda não esclarecidas, não diminuiu apesar da baixa do crescimento nesses dois primeiros anos do governo Dilma, o que é ótimo, mas tendem a ser empregos de baixa remuneração e de alta rotatividade. Portanto, não são os tais bons empregos que a reindustrialização poderia vir a produzir. É claro que é melhor do que a não formalização, mas começa a acentuar as contradições relativas, justamente, à precariedade desses empregos.
Os sentidos do lulismo aborda questões elementares da formação histórica do Brasil. Você mostra que a origem do subproletariado remonta à escravidão, fala de “atraso histórico”, associa ao passado escravocrata a ambivalência da classe média tradicional em relação ao trabalhador e indaga: “será o reformismo fraco suficiente para dar conta dos impasses legados pela formação do país?”. Se sua hipótese sobre o desaparecimento do subproletariado estiver correta, qual é o significado do lulismo para a historiografia e as ciências sociais no Brasil?
Essa pergunta terá de se colocar ao fim do processo. Se a minha hipótese estiver correta, digamos que esse processo tenha pleno êxito, ou seja, ele consiga persistir por mais 15 ou 20 anos, e ao final desse processo ele tiver cumprido a sua missão – que é a incorporação e, portanto, da transformação das condições estruturais de classe do país. Nós teremos outra conformação de classes. Neste caso, eu diria sim. Neste caso, o lulismo evidentemente incidirá sobre as interpretações do Brasil, porque ai será um outro Brasil. Se tudo desse certo nesse projeto, daqui 15 ou 20 anos, seria necessário reinterpretar o Brasil.
No lançamento de seu livro na USP, você afirmou ser socialista, porém fez questão de colocar a ressalva: “defendo o socialismo, mas com democracia”. Como você concebe o socialismo e de que maneira você vê o debate atualmente na esquerda sobre essa questão?
Primeiramente, eu acho que a democracia é uma grande conquista da humanidade. A democracia é um sistema cheio de defeitos, mas é o melhor que já foi inventado. Nós temos a obrigação, como socialistas, de pensar como tirar a democracia dessa enorme crise na qual ela entrou nas últimas décadas, em que os partidos estão se esvaziando e há uma crescente descrença nos mecanismos democráticos. Isso não vai levar para um bom final. Os valores da democracia e da liberdade são intrínsecos ao socialismo na sua origem. Penso que eu não estou fazendo nenhum exagero ao dizer que lá atrás na formação a democracia, embora eu ache queera tentar dar esse salto.do pensamento socialista, democracia e liberdade são valores plenamente socialistas. Essa é a razão pela qual boa parte dos partidos europeus se chamam de Social Democrata. Socialistas democráticos. Então é uma coisa só. Tem aquela velha frase, de que eu gosto muito de que “não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo” porque uma é a realização da outra. O socialismo é a realização plena da democracia, é trazer a democracia para a vida econômica. Trata-se apenas do resgate de uma tradição original. Mas é preciso ir um pouco mais longe e dizer o seguinte: infelizmente nós tivemos experiências de socialismo autoritário – que eu acho uma contradição em termos – mas foram experiências reais e muito dolorosas. Portanto, a tradição socialista tem que prestar contas dessa experiência e explicar para a sociedade que nós entendemos que essas experiências não foram propriamente socialistas, uma vez que autoritárias, mas que elas foram acontecimentos extremamente importantes para a história da humanidade especialmente no século XX. Como socialistas, temos responsabilidade intelectual e moral por essas experiências, embora possamos não ter participado diretamente delas. É importante para a tradição socialista enfrentar o problema da democracia, embora, em tese, não houvesse o que enfrentar. Em face dos acontecimentos históricos do século XX, a esquerda tem que dar muita centralidade para a discussão a cerca da democracia. Esse debate ainda está mal colocado. Eu vejo que a esquerda ainda está as voltas com problemas como a ideia de ditadura do proletariado, que considero uma ideia danosa, pois confunde a nossa posição a respeito do assunto. Embora não devesse ser assim, porque a experiência história já deveria ter mostrado como é fundamental para a esquerda esse apego aos valores democráticos e da liberdade, esse é um debate que nós temos que travar até mesmo dentro da esquerda e, no que me diz respeito, acho que é uma das coisas que eu estou mais disposto a fazer, porque acho que não haverá resgate social amplo da ideia socialista sem que a gente deixe muito claro qual é o nosso compromisso com a democracia.
Serviço:
“Os sentidos do lulismo”
Ano: 2012
240 páginas
Companhia das Letras