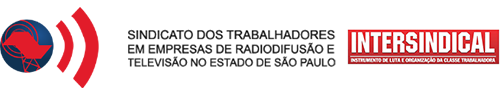Compartilhe
A cubana Isabel Monal
Em meio à chamada ‘atualização’ do modelo cubano, Isabel Monal pode ser considerada uma das vozes mais legítimas para comentar o assunto. Ela participou ativamente da revolução liderada por Fidel Castro e Che Guevara. Dentro do contexto revolucionário cubano, a filósofa marxista chegou a ser presa nos Estados Unidos.
Ao Brasil de Fato, a diretora da revista Marx Ahora fala também sobre sua formação acadêmica e os desafios do socialismo cubano nos dias de hoje. Monal esclarece que em nenhum momento foi proposto um socialismo de mercado (referindo-se às últimas diretrizes aprovadas no 6o. Congresso do Partido Comunista Cubano), mas que, ao mesmo tempo, não se pode ignorar o tal ‘mercado’.
A filósofa defende que nunca houve dúvidas (entre os cubanos) de que a “propriedade social” continua sobre os meios de produção. “Em nenhum momento se propõe liquidar o socialismo, mas atualizá-lo”, destaca.
Brasil de Fato – Conte-nos sobre sua formação e sua história.
Isabel Monal – Meus estudos universitários primeiramente, na área de pedagogia, foram feitos em Cuba, Havana, mas não era o que me interessava. Na Universidad de La Habana entre 1950 e 1954. Então de 1955 a 1956, ganhei uma bolsa de estudos para fazer pós-graduação em educação no San Francisco State College, Califórnia. Após terminar meu mestrado, no verão de 1956, fui para Universidade de Harvard e me interessei muito pela filosofia. Fiz dois cursos nesse verão. No ano seguinte, voltei a Harvard e frequentei cursos na filosofia e na educação, também no plano teórico, como história das ideias e sociologia da educação.
E a descoberta de Marx?
Assim, nesse período, tive meu primeiro contato com Karl Marx e a teoria de que a história tem uma regularidade e leis. Eu tinha, também, uma sensibilidade sobre os problemas do mundo e dos seres humanos.
Como se deu seu envolvimento com a política?
Nessa época, eu tinha inclinações Apristas (referência a partido peruano APRA – Aliança Popular Revolucionária Americana) e minha família se escandalizava porque tudo isso soava a comunismo, e todos estavam meio assustados com os caminhos que eu estava tomando na vida. O golpe de Estado de [Fulgêncio] Batista, em 1952, teve um impacto tremendo em Cuba, para todos nós, uma vergonha, uma impotência. Isso ficou gravado na minha mente.
Existiam alguns grupos revolucionários?
Sim, naquele momento percebi que Fidel Castro tinha razão, e que somente uma oposição armada levaria à transformação daquela situação. Quando voltei, comecei com minha irmã – mais velha que eu três anos – a procurar contatos com as pessoas de Fidel, e nos incorporamos à luta clandestina, até que nos descobriram. Mas a polícia não nos alcançava. Quando caiu o nosso apartamento, nós já tínhamos abandonado o lugar. Eu e minha irmã já não estávamos lá. Minha irmã foi para Pinar Del Rio, onde foi capturada, eu fiquei em Havana. Depois de um mês fui presa. Pouco depois nos mandaram para os EUA. Lá continuamos nossa militância na Revolução. Lembro-me de um envio de armas que tínhamos que fazer, através de um porto. Eu estava em um carro e minha irmã em outro, mas o companheiro que dirigia o carro em que eu estava bateu – imagine um carro cheio de armas e que bate! Já era final de dezembro e ninguém sabia que Batista já estava caindo. E nós batemos o carro cheio de armas no meio do Estado de Ohio. Fomos presos. Ficamos presos mesmo depois da queda de Batista, o que era ridículo.
O que aconteceu depois disso?
Voltamos logo depois para Cuba. Quando voltei, começou para mim o turbilhão da revolução; primeiro estive na direção provincial do movimento, depois – fazíamos várias coisas ao mesmo tempo-, passei a trabalhar em questões da cultura. A revolução foi se tornando marxista. Passei do ensino de filosofia à pesquisa com um pequeno grupo criado para o estudo do marxismo na Universidad de La Habana. Por um tempo continuei dirigindo o Teatro Nacional, mas depois passei a me dedicar somente à universidade.
Você teve outras atividades?
Em certo momento fui à Alemanha, na antiga RDA, na Universidade de Bonn, e passei a estudar o jovem Marx e o jovem Engels. Nesse momento, os companheiros cubanos estavam tentando nomear um representante na UNESCO e, por uma série de circunstâncias, após várias recusas dos nomes apresentados, as Nações Unidas aceitaram a minha nomeação. Fui então para Paris, onde vivi por 12 anos, trabalhando na UNESCO. Voltei a Cuba em 1992, em um momento muito difícil da revolução. Em meados dos anos de 1990, apresentei o projeto de criação de uma revista e, finalmente em 1996, começou a sair Marx Ahora, e desde então ela sai com muitas dificuldades.
As dificuldades da revista estão relacionadas com a crise, ou você acredita que tenha mudado a relação com o marxismo?
Essencialmente com a crise. Temos dificuldade em manter a qualidade gráfica, o material da capa é caro e a crise traz muitas dificuldades para manter uma revista, é uma batalha contínua.
De que forma o marxismo está presente?
Mesmo tendo havido um retorno do ensino do marxismo na universidade, isso é insuficiente porque o marxismo não está socializado na consciência massiva; fica como uma disciplina, que é bom que haja na universidade, mas não passa daí. Não é que seja preciso falar de marxismo, mas sim usar suas categorias, usar o tipo de análise marxista. Uma das coisas que está presente nesses estudos é o debate sobre imperialismo, que reapareceu no final dos anos 1990.
Como se dá a relação dos intelectuais não marxistas e a cultura revolucionária cubana?
O que é muito importante em Cuba é a defesa da identidade, porque Cuba sempre esteve ameaçada e, às vezes, baseada em ameaças, às vezes nos fatos, por essa invasão ideológica, cultural, dos EUA. Assim, há em Cuba uma cultura da resistência, de resistir à invasão. Eu prefiro dizer ‘cultura da resistência e da luta’, pois me preocupa a ideia de ficar só na resistência. No período após a queda do campo socialista, ‘resistir’ foi fundamental. Em Cuba, diante de suas condições históricas, a independência, o socialismo e a revolução constituem um eixo inseparável: se cai a revolução, os EUA vão tomar a ilha e anexar, de uma maneira ou de outra, e o país como tal vai desaparecer. Por isso há uma sensibilidade em quase toda a intelectualidade cubana, no sentido de defesa da existência do país. Por outro lado, é muito bom que os demais companheiros debatam suas ideias, mesmo não sendo marxistas.

Estudantes na Universidade de Havana – Foto: Wagner T. Cassimiro Aranha/CC
De volta às questões nacionais. Em Cuba se discute as possibilidades da via chinesa e da experiência vietnamita. Sentimos uma atração de comunistas cubanos pela experiência do Vietnã. Por que os cubanos não desenvolveram uma discussão sobre o marxismo e a questão nacional?
Eu vejo uma diferença, uma particularidade na história cubana, que foi sempre de afirmação nacional muito forte; todo o processo de independência de Cuba. Nós sempre lutamos contra os impérios: o espanhol, o império estadunidense. Foram relações difíceis, e há uma tradição do que chamo de ‘cubanidade’. Como é que Cuba consegue resistir, principalmente após a queda do Leste Europeu? Então para tentar entender isso eu fui pegar o fio da história e em Cuba se tem uma tradição de afirmação nacional muito forte. Isso está presente no José Martí. O sentimento nacional, de nação, é muito forte em Cuba, levamos muito tempo para nos libertarmos da Espanha, tivemos que lutar quase todo o século 19.
É um processo ímpar de independência.
Sim, não é como todo o resto da América Latina, que tiveram poucos anos de guerra, nós lutamos dez anos e perdemos a guerra. A primeira guerra de independência foi de 1868 a 1878, depois veio a revolução, a guerra de independência organizada por Martí, que quando já estava muito próxima de vencer os espanhóis, sofreu a intervenção dos EUA, que nos roubou, nos tomou a vitória. Então, o país foi se forjando desta maneira, e sem esse sentimento tão forte sem dúvida não estaríamos aqui.
Vamos falar, agora, sobre as mudanças em Cuba.
A necessidade de fazer mudanças é evidente. Essa necessidade de modificação era pedida por absolutamente todos. Claro que nem todos tinham em mente o que deveria ser mudado e como deveria ser feito, e ainda hoje pode ser que isso se dê. A juventude, também, estava pedindo essas mudanças como um eixo normal e natural da dinâmica desta própria sociedade. Mas, além disso, no caso específico de Cuba, me parece obviamente necessário o que chamamos de atualização do modelo cubano.
Como seria esse processo?
Reafirmo que as mudanças devem implicar em uma atualização do modelo. Além disso, há a necessidade de retificação de linhas que se seguiram e que estavam erradas, sendo necessário modificá-las. Por exemplo, a liquidação de quase todo o artesanato, que contém uma cultura de séculos.
E o processo revolucionário?
Um dos problemas que nós revolucionários temos ao longo da história é a impaciência. Estamos cheios de um espírito de maior ou menor impaciência. Isso nos faz atuar, nos impulsiona. Mas essa impaciência faz com que se queira já uma ótima forma de justiça social, qualquer forma de desigualdade incomoda muito. Marx, através da Crítica ao Programa de Gotha, alerta contra isto. Não se liquida tudo da velha sociedade de uma só vez. E nós, levados por essa impaciência de liquidar o velho, quisemos queimar etapas e as consequências se pagam. Algumas das coisas que no exterior se divulga é que estamos rumo ao retrocesso ao capitalismo – e eles dizem retrocesso porque é o que eles querem – mas não estamos em um processo de regresso ao capitalismo de nenhuma maneira. O que não quer dizer, por exemplo, que toda uma série de formas de trabalho que em Cuba chamamos de ‘conta própria’, que já existiam, não possa existir.
Outra questão é o problema da produção pecuária e agrícola que aí se ensaiaram várias fórmulas, mas que também não funcionou. Às vezes nos culpam, e me parece que injustamente, porque tínhamos estas propriedades extensivas, estatais, mas com trabalhadores agrícolas, e que deveriam ter repartido em pedacinhos para dar aos camponeses, como no Vietnã e na China. Mas em Cuba não se pode fazer o mesmo que os outros, porque desde a época da colônia espanhola e depois com o imperialismo dos EUA nunca houve um verdadeiro desenvolvimento do campesinato. Houve campesinato, obviamente, mas o que predominava em Cuba eram as grandes propriedades com modelos agrícolas. É preciso ver, também, que Cuba tem essa herança. Agora estão distribuindo terras e me parece que é uma boa saída, que incrementa a produção, mas levará anos para que vejamos os resultados.
Como estão se dando as reformas?
Muitas dessas mudanças já haviam sido aprovadas e nunca foram implementadas. Talvez por uma característica de nosso povo, de falta de sistematicidade. Mas agora estão sendo encabeçadas por Raúl Castro e os membros do Estado. Não se renuncia em nenhum momento ao planejamento para se deixar chegar a uma sociedade de mercado – para não dizer capitalista. Em nenhum momento foi proposto um socialismo de mercado, mas sim um socialismo que reconheça que, nesta etapa pelo menos, não podemos ignorar o mercado. Mas continua a propriedade social sobre os meios de produção, nunca houve dúvidas sobre isto. Em nenhum momento se propõe liquidar o socialismo, mas atualizá-lo.
Como o socialismo e as mudanças propostas são vistas pela juventude?
Temos um problema muito específico com as novas gerações. Eles não têm – e isso não é uma questão só de Cuba – uma verdadeira compreensão, um verdadeiro interesse no mundo. E esse interesse pelo mundo e essa compreensão do mundo, em primeiro lugar, deve ser uma condição desse homem do socialismo que não pode pensar só nele.
Diante de tudo isso, qual seria a perspectiva de Cuba?
Cuba seguirá socialista e internacionalista, sempre em defesa da humanidade.