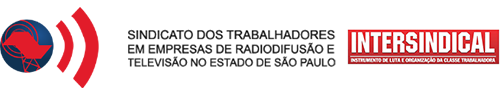Compartilhe
Por Jorge Américo
O futebol é a nossa alegria mais disfarçada, nossa paixão mais reprimida. É o amálgama que une os novos bilionários e a nova classe média (com seus R$ 300 mensais) “num só rebanho de condenados”. Os estádios de futebol são verdadeiros laboratórios antropológicos, onde estratos sociais de pólos opostos estão separados apenas pela frágil cortina de vidro dos camarotes.
É impossível passar indiferente diante do novo estádio do Corinthians, cemitério místico onde sepultaremos nossas amarguras. Os mais prudentes disfarçam o espanto, temendo render-se à “força da grana que ergue e destrói coisas belas”. Os desavisados ignoram que pertinho dali centenas de famílias serão expulsas para dar viabilidade à Copa do Mundo. Depois, passada a euforia das festividades, milhões de trabalhadores deixarão de comprar o leite das crianças e a mistura da marmita do mês inteiro para ver de perto o time do coração.
As implicações jurídicas, políticas, ideológicas, morais, éticas e culturais que envolvem o julgamento do “mensalão” fizeram o Supremo Tribunal Federal (STF) recuperar o falso glamour sustentado há mais de um século. Ainda assim, o seleto clube que reúne os 11 iluminados da magistratura continua perdendo em importância para os 11 titulares da Seleção Brasileira.
A nós, nada fará sentido enquanto não convencermos o mundo inteiro de que o título de maior jogador de futebol de todos os tempos não está em disputa. Uns querem que Messi seja maior que Pelé. Outros sabem que ele não pode ser. Pelé é o Cisne Negro. Bailarino que pendurou as sapatilhas para calçar chuteiras. Por causa de Pelé, o futebol é a oitava arte. Seja pela linguagem universal; seja pela estética; seja pela poética; seja pelo jeito peculiar de falar aos corações.
Poeta da bola, recitava gols. Driblava certo por linhas tortas para confundir os adversários. E continua confundindo até hoje. Sobretudo quando o assunto é racismo. Neste quesito, Pelé tem foro privilegiado em qualquer tribunal moral. Para ele, não há maior ultraje que xingar a mãe de alguém. Pelé ousou ser rei num país onde a cor da pele faz toda a diferença. Precisou ser condecorado em terras estrangeiras para que o resto do mundo soubesse que existiam negros no Brasil e que a televisão, o cinema e as revistas nunca refletiram a nossa diversidade.
Sem oportunidade de testar as habilidades intelectuais numa universidade, Pelé improvisou e usou a cabeça para fazer gols. Longe dos laboratórios de física, passou a vida zombando da Teoria Gravitacional de Newton, com seus saltos espetaculares. Pelé sempre sabia o tempo da bola, demonstrando que o tempo não é tão relativo como Einstein quis que acreditássemos. Uma sequência de cálculos matemáticos precisos, um impulso explosivo, um desvio milimétrico de cabeça e a bola dormia no fundo da rede. Invariavelmente, num cantinho onde o guarda-metas não podia alcançar.
Aos que insistem nas comparações, é importante atentar que Pelé está no primeiro degrau. O segundo degrau ninguém atingiu. No terceiro estão aqueles aos quais se convencionou chamar de gênios. O maior feito desses foi conquistar pelo menos uma edição da Copa do Mundo, tendo desempenhado papel determinante em todas as partidas.
Na era das celebridades, com um penteado exótico, um pouquinho de marra e uma boa agência de marketing, qualquer jogador mediano pode ser craque. Quando os grandes boleiros da atualidade desfilam preguiçosos sobre o gramado aveludado com suas chuteiras reluzentes, lembro de um tempo em que se jogava por amor ou por falta de oportunidades. Muitos nem sonhavam em fazer fortuna correndo atrás duma bola. Era só a expectativa de fazer cinco refeições ao dia e não ter mais que dormir embaixo de goteira.
Quando chegou minha vez de cavar uma oportunidade, fui barrado na primeira peneira por motivo banal. Lembro do treinador dizendo: “Para fazer teste aqui, só com chuteira. Senão, alguém pode dar um pisão e machucar teu pé”. A peneira era o vestibular da bola.
O sonho acabou, mas a paixão sobreviveu. Passei anos correndo contra o tempo, enquanto a idade de trabalhar não chegava. Só parava de jogar quando anoitecia porque no Campo do Sapo não tinha iluminação. Nas tardes mais quentes, ficava agourando os caminhões de Coca-Cola. Torcia para que um deles capotasse ali perto para a gente poder se refrescar. Ignorava que o motorista e seu ajudante pudessem morrer e que as garrafas tinham dono, como tudo que existe.
O futebol é a única atividade humana na qual a humildade é virtude opcional. Humilhar o adversário e deixá-lo prostrado diante dos pés de quem conduz a bola é uma espécie de licença poética para ser soberbo. Contudo, para quem nasceu ou cresceu nos anos de 1980, não era preciso ser bom driblador para humilhar alguém. Bastava ter um Kichute. E esse foi meu segundo alumbramento (o primeiro foi uma moça cuja saia sofrera graciosa derrota numa peleja com o vento).
Eram tempos de vacas magras para minha família e para o país. Passagem dos anos de 1980 para os 90. Já naquele tempo conhecia o preço de todos os itens da cesta básica e nunca ousei pedir qualquer presente que fosse. Quando a esperança ameaçava me sorrir, o segundo boleto atrasado do aluguel chegava na caixa do correio. Com o tempo, a obsessão ia se convertendo num suave e solene desejo. Até que um vizinho bateu no portão. Zelador em um prédio de luxo, ele sempre ganhava objetos usados pelos serviços extras. Como ganhara dois pares de Kichute no último bico e só tinha um adolescente em casa, decidiu dividir com quem tinha mais filhos.
Até então, ninguém conhecia o tamanho do meu anseio. Assim, decidiu-se fazer um jogo de sorte: o Kichute ficaria com quem melhor calçasse. Éramos quatro irmãos, com quatro formatos de pés: comprido e achatado; comprido e fino; curto e achatado; e curto e fino. Dependendo da flexibilidade do material e de alguma persistência, um pé curto e achatado se ajusta em um calçado comprido e fino – e vice-versa. É certo que, às vezes, é preciso saber bloquear a dor e sorrir como quem pisa em plumas.
Meus pés eram curtos e achatados. Tinha chances dobradas, mas preferi ser o último a experimentar. Foram os três minutos mais longos de que tenho recordação. Depois de séculos infindos, a angústia foi compensada com um “é teu!”. No momento, nem dei conta da frustração dos meus irmãos, que certamente queriam tanto quanto eu. Imagino que Paulinho da Viola tenha concebido Pecado Capital numa situação parecida, ao perceber que “quando o jeito é se virar / cada um trata de si / irmão desconhece irmão”.
O Kichute não era um calçado. Era um Kichute. Servia para ir à escola, jogar bola, empinar pipa, usar em casa na falta de chinelo, correr na rua, subir em árvore, andar à toa, ir à missa no domingo. Servia, também, de travesseiro quando se deitava na grama de barriga para o ar em noites de fadiga. Tinha o formato de chuteira e era feito de tecido rústico e borracha. Possuía oito travas na sola e um cadarço enorme, com o qual se davam duas ou três voltas na canela – dependendo da grossura da canela – antes de amarrar. Éramos inseparáveis eu, meu Kichute e o calção xadrez remendado nos fundos.
A Alpargatas é a mãe do Kichute. Viveu o seu auge no ano de 1978, quando foram vendidos 9,7 milhões de pares somente no Brasil. A proeza se repetiu em 1985. Nos anos de 1990 sucumbiu diante da abertura dos portos e da invasão estrangeira e perdeu mercado para o All Star. Foi, inclusive, essa conjuntura que fez um garoto rico abrir mão de um Kichute em bom estado. E a caridade de um zelador fê-lo chegar até um garoto pobre. Desde então, o All Star reinou soberano no gosto popular até a marca ser adquirida pela Nike e chegar a custar ¼ de salário mínimo.
Imaginava que usando o calçado dos sonhos poderia ser popular e conquistar muitas garotas. Mas àquela época o videogame Atari já fazia a cabeça da moçada. Mesmo em cima de um Kichute, bem engraxado e devidamente amarrado na canela, eu era só mais um por entre a turba – feito Bandeira na terça-feira gorda. Pisava, porém, com solenidade.
Jorge Américo é jornalista, educador popular e editor da Radioagência NP